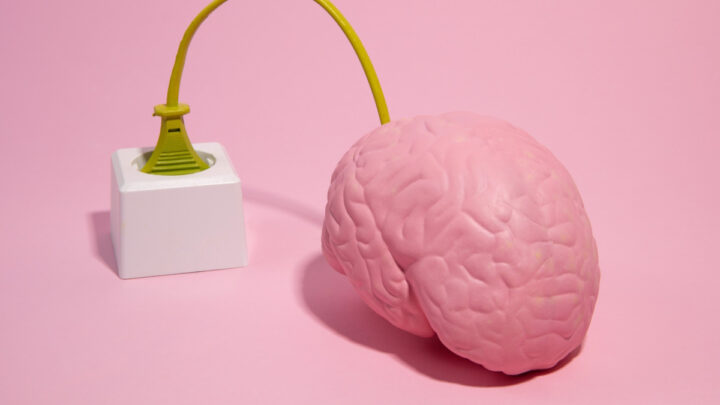Se antes os seres humanos temiam outros seres vivos invasores, pela suas características de parasita, hoje em dia a história é um bocado diferente. Num artigo, dois especialistas exploraram o facto de o maior parasita da era moderna não ser uma pulga, nem um piolho…
Os biólogos evolucionistas definem um parasita como uma espécie que se beneficia de uma relação próxima com outra espécie — o seu hospedeiro — enquanto o hospedeiro suporta um custo.
O piolho da cabeça, por exemplo, depende inteiramente da nossa espécie para sobreviver. Uma vez que só se alimenta de sangue humano, se for desalojado do seu hospedeiro, sobrevive apenas por um breve período, a menos que caia no couro cabeludo de outro ser humano. Em troca do nosso sangue, os piolhos não nos dão nada além de coceira; esse é o custo.
Na perspetiva de Rachael L. Brown, diretora do Centro de Filosofia das Ciências e professora associada de Filosofia da Universidade Nacional Australiana, e Rob Brooks, professor de Evolução da UNSW Sydney, num artigo, “o maior parasita da era moderna não é um invertebrado sugador de sangue”.
Por sua vez, “é elegante, com uma frente de vidro e viciante por natureza”. O seu hospedeiro é, conforme descrito, “todo o ser humano na Terra ligado ao Wi-Fi”.
Smartphones não são tão benignos quanto surgiram para ser
Longe de serem ferramentas benignas, os smartphones parasitam o nosso tempo, a nossa atenção e as nossas informações pessoais, em benefício das empresas de tecnologia e dos seus anunciantes.
Num novo artigo publicado no Australasian Journal of Philosophy, os dois especialistas sustentam por que motivos os smartphones representam riscos sociais únicos, que se tornam evidentes quando vistos através da lente do parasitismo.
Tendo em conta o conceito de parasita, apesar dos benefícios dos smartphones, que mudaram radicalmente as nossas vidas, “muitos de nós somos reféns dos nossos telefones e escravos do scroll infinito, incapazes de nos desconectarmos totalmente”.
Para os utilizadores, o custo a pagar pela presença desse parasita reflete-se “na falta de sono, nas relações offline mais fracas e nos distúrbios de humor”.
Relação com os smartphones nem sempre foi parasitária
Nem todas as relações próximas entre espécies são parasitárias. Muitos organismos a viver sobre ou dentro de nós são benéficos.
As bactérias no trato digestivo dos animais, por exemplo, só podem sobreviver e reproduzir-se no intestino das suas espécies hospedeiras, alimentando-se dos nutrientes que passam por ele.
No entanto, a par disso, proporcionam benefícios ao hospedeiro, incluindo melhor imunidade e melhor digestão, numa relação mutuamente benéfica, conhecida como mutualismo.
A relação entre humanos e smartphones começou como um mutualismo, pois a tecnologia provou ser útil para os humanos manterem o contacto, navegarem através de mapas e encontrarem informações úteis.
A partir dessas origens benignas, no entanto, os especialistas argumentaram que a relação se tornou parasitária.
Tal mudança não é incomum na natureza; um mutualista pode evoluir para se tornar um parasita, ou vice-versa.
Na opinião de Rachael L. Brown e Rob Brooks, à medida que os smartphones se tornaram quase indispensáveis, algumas aplicações mais populares passaram a servir os interesses das empresas responsáveis por elas, bem como os seus anunciantes, mais fielmente do que os dos seus utilizadores humanos.
Essas aplicações são, neste momento, projetadas para influenciar o nosso comportamento, mantendo-nos a fazer scroll, a clicar em anúncios e a “ferver numa indignação constante”.
Os dados sobre o nosso comportamento de scroll são usados para promover essa exploração. O seu telemóvel só se preocupa com os seus objetivos pessoais de fitness ou com o seu desejo de passar mais tempo de qualidade com os seus filhos na medida em que usa essas informações para se adaptar e captar melhor a sua atenção.
Escreveram os dois especialistas, defendendo que “pode ser útil pensar nos utilizadores e nos seus telemóveis como semelhantes a hospedeiros e os seus parasitas — pelo menos, algumas vezes”.
Afinal, observar os smartphones através das lentes evolutivas do parasitismo pode ser interessante, no sentido de perceber “para onde essa relação pode levar — e como podemos impedir esses parasitas de alta tecnologia”.
É possível corrigir este parasitismo?
No caso dos smartphones, não é fácil detetar a exploração. As empresas de tecnologia que projetam os vários recursos e algoritmos para manter uma pessoa a pegar no seu telemóvel não divulgam esse comportamento.
Mesmo que esteja ciente da natureza exploradora das aplicações para smartphones, reagir é mais difícil do que simplesmente largar o telemóvel.
Muitos de nós tornámo-nos dependentes dos smartphones para as tarefas diárias. Em vez de memorizar factos, transferimos a tarefa para dispositivos digitais — para algumas pessoas, isso pode alterar a sua cognição e memória.
Dependemos de uma câmara para capturar eventos da vida ou mesmo para registar onde estacionámos o carro.
Exploraram os especialistas, dizendo que os governos e as empresas apenas consolidaram a dependência dos smartphones, transferindo a prestação dos seus serviços para o ambiente online através de aplicações móveis.
Assim que um utilizador pega no telemóvel para aceder às suas contas bancárias ou aos serviços governamentais, “perdemos a batalha”.
No final do seu artigo, os especialistas exploraram várias potenciais soluções para corrigir a relação desequilibrada com os smartphones, por forma a transformar a relação parasitária numa relação mutualista.
Na sua opinião, conforme admitiram, “a escolha individual não é suficiente para levar os utilizadores a esse ponto”.
Estamos individualmente em desvantagem relativamente à enorme vantagem informativa que as empresas tecnológicas detêm na corrida desenfreada entre hospedeiros e parasitas.
Conforme escreveram, “a proibição do uso de redes sociais por menores de idade pelo Governo australiano é um exemplo do tipo de ação coletiva necessária para limitar o que esses parasitas podem fazer legalmente”.
Os dois especialistas defenderam que, “para vencer a batalha, precisaremos, também, de restrições aos recursos das aplicações conhecidas por serem viciantes, e à recolha e venda dos nossos dados pessoais”.